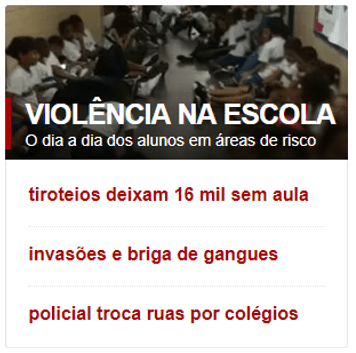ENSAIO
OLIVEIRA, Ana Viera [1], MELO, Sheila de Souza Corrêa de [2]
OLIVEIRA, Ana Viera. MELO, Sheila de Souza Corrêa de. As artes da memória e as políticas do esquecimento: esboçando “quadros de guerra” no ensino de história. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 10, Vol. 02, pp. 158-167 Outubro de 2018. ISSN:2448-0959. Link de acesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/historia/artes-da-memoria, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/historia/artes-da-memoria
RESUMO
O artigo a seguir trata do ensino de História e quando esse se justapõe ao cotidiano da comunidade em que a escola está inserida. É responsabilidade desta disciplina cuidar da construção da memória da comunidade? Organizando conceitos como passado, tempo, temporalidade, futuro, momento, monumento e patrimônio. O professor de história deve colocar ciente a comunidade para ser protagonista, autora e escritora da própria trajetória? As fotografias no jornal, uma imagem na televisão ou um quadro são leituras, visões de pessoas externas a comunidade que traduz aquela realidade para um público também exterior, uma vez que na maioria dos casos não temos ouvidos os relatos dos principais interessados nessa história, aqueles que de fato a vivenciaram. Trazemos essa responsabilidade para a sala de aula, para as aulas de história para desta forma ajudar a formar cidadãos críticos e partícipes de sua própria trajetória.
palavras-chave: Ensino, História, História Contemporânea.
INTRODUÇÃO
“Violência deixa 16 mil estudantes sem aula em apenas 15 dias no Rio”. Eis o título da manchete anunciada no ano de 2015 em um dos principais portais de notícia nacionais – o G1, mídia parte do grupo Roberto Marinho também detentora de outros meios de comunicação como jornais impressos, canais de televisão na rede aberta e a cabo, além de uma imensa indústria produtora de ficção de entretenimento, como filmes e telenovelas. Tão significativo quanto o tom e a matemática da manchete é a fotografia que a acompanha e que foi apresentada também em inúmeros outros meios de comunicação do grupo em questão e além dele.
Foto 1 – Crianças passam por policiais no conjunto de favelas da Maré no Rio de Janeiro, em Abril de 2015, quando a Polícia Militar começou a substituir os homens da Marinha e do Exército que ocupavam o conjunto de favelas na zona norte do Rio

Na foto de autoria do fotojornalista Tomáz Silva se justapõe de modo quase barroco como que dois mundos, dois universos de experiência e de símbolos que são conectados em vertical por uma estrada, na verdade uma das principais vias asfaltadas do Complexo da Maré, e ao fundo, na horizontal e desfocado a arquitetura típica dos sobrados com tijolos expostos que usualmente são acionados como representações legítimas e autorizadas do que seja uma favela. A despeito do concreto, a carne da imagem é configurada por dois grupos de atores: à esquerda uma jovem negra de cabeça erguida acompanha abraçada uma criança pequena, que veste o uniforme distribuído pelo governo do estado às crianças da rede pública de ensino. À direita, quatro policiais na corpulência de seus distintos distintivos empunham metralhadoras e fuzis enquanto observam a jovem menina de ar sofrido, cabisbaixa, enquanto rumam para algum lugar.
Ainda no corpo da reportagem outra imagem desbotada acena para o absurdo da situação de (conflito entre) violência a compor o cenário carioca, ou mais especificamente, nas favelas cariocas. Em uma escola também no complexo da Maré crianças esgueiram-se abaixadas pelo corredor da escola protegendo-se do barulho e da velocidade dos tiros além dos muros. Sobre a foto desbotada se vê impresso “violência na escola: o dia a dia em áreas de risco”. Tanto aqui como lá, crianças de pele escura, muitas delas reconhecendo a si mesmas provavelmente como “negras” ou “morenas” conformam o maior volume nesse movimento da violência que atinge de maneira desproporcional corpos marcados por diferentes regimes de pertencimento racial e de classe.
Uma terceira imagem, dessa vez sem fotografia. Ainda no mesmo portal de notícias, dessa vez na cidade de Ananindeua, estado do Pará, se vê descrito o relato de invasão à escola José Maria de Morais. Ali, acompanhados de armas de fogo, assaltantes de executarem um “arrastão” nas diversas salas da unidade escolar, além de fazer alunos reféns no fim de tarde de um dia comum de sexta-feira. Não há policiais, não há crianças deitadas no chão, não há insígnias indeléveis que possam testemunhar o clima de horror e absurdo. Nada, apenas as experiências de uma história que eventualmente será esquecida. Pouca coisa vincula Rio de Janeiro, uma grande cidade cosmopolita e símbolo de beleza e brasilidade, com as dimensões desajeitadas e o pouco destaque mundial que tem Ananindeua. Contudo, ambas as cidades permanecem no mapa de uma política de produção estatística que confere valor, sentido e número à noção de violência. Se no caso do Rio de Janeiro os números anunciam o absurdo de uma cidade que permite que, justificada por seus confrontos com o “mundo do crime”, “16 mil alunos” fiquem sem acesso à escola, no caso de Ananindeua a política do absurdo se faz quase que apenas com a dimensão quase insólita de um arrastão em uma área que usualmente não é entendida como área de risco.
Essas são situações que usualmente não ocupam a reflexão sobre o ensino de história, ou mesmo as relações entre história, memória e cotidiano. De forma usual, a perspectiva escolar sobre o ensino de história considera que a responsabilidade disciplinar aqui é de alguma forma de produzir (ou de maneira mais própria, conferir autenticidade) a uma certa narrativa que tem um lugar temporal reconhecido como o “passado”. O passado é o que já foi, e sendo os acontecimentos acima narrados “coisas de agora”, dos nossos dias, a preocupação do ensino de história sobre eles pode ser como que secundária. Contudo, e esse é o propósito desse breve esboço de ensaio, é possível dizer que existam mais implicações sobre o tipo de narrativa aí presente e o projeto de uma história como exercício crítico e reflexivo sobre aspectos que organizam a experiência social de diversas coletividades, a exemplo de categorias como “tempo”, “temporalidade”, “passado”, “futuro”, “memória”, “lembrar”, “esquecer”, “acontecimento”, “evento”, “monumento”, enfim. Não está no escopo desse ensaio discutir os sentidos produzidos sobre essas categorias, mas antes de considerar as estratégias de escrita da história e sua legitimação como um exercício de produzir lugares habitáveis.
SOBRE ESCREVER E PINTAR, OU SOBRE A PRÓPRIA HISTÓRIA
“Uma imagem fala mais que mil palavras” diz o senso comum. Talvez haja mais no senso comum do que algo “comum”. As cenas descritas e gravadas anteriormente não são uma reconstituição genuína da realidade. São antes de tudo, “frames”, “quadros”, processos de produção de recortes sobre a realidade que têm como efeito a produção de limites, fronteiras, moldura e dimensão ao que deve ser visto. Isso não implica, contudo, que exista um mundo acessível além dos “frames”, até porque, como se sabe, todos os mundos habitáveis ou habitados por humanos são elaborados e reiterados a partir de certos valores, expectativas e convenções sobre o social que se atualizam no curso do tempo e do processo histórico. Nesse sentido, vemos não por lentes culturais que conferem cor e contorno a um mundo real, mas através de frames que estabelecem a densidade e participam do sentido que conferimos aos eventos aos quais temos acesso. A fotografia como uma metáfora pode ser útil para pensarmos as implicações de um mundo que é acessível a partir dos “quadros”, como diria a filósofa, feminista e militante dos direitos humanos, Judith Butler. Discutindo as implicações da relação ente fotografia e luto no argumento de Susan Sontag, a filósofa diz:
Como interpretação visual, a fotografia só pode ser conduza dentro de determinados tipos de enquadramento, a menos, é claro, que haja uma maneira de fotografar o próprio enquadramento (frame). Nesse ponto, a fotografia que cede seu enquadramento à interpretação consequentemente expõe a um exame crítico as restrições à interpretação da realidade. Expõe e tematiza o mecanismo de restrição e configura um ator de ver desobediente. Não se trata de uma hiper-reflexividade, mas de considerar que as formas de poder social e estatal estão “incorporadas” no enquadramento, incluindo regimes regulatórios estatais e militares. Essa operação de enquadramento mandatório e dramatúrgico raramente se torna parte do que é visto, muito menos do que é narrado. (BUTLER: 2015, p.110-111).
A ideia de quadro pode ser pensada ainda como uma metáfora pertinente para o problema da produção da história por excelência: a escrita. Aqui escrita é tanto a linguagem e convenção sobre o verbal a partir da qual se confere com maior veemência o estatuto de “documento histórico” a certo tipo de artefato, como a própria experiência narrativa de ordenamento e produção de uma cadeia de inteligibilidade que converte “eventos” em “fatos” (fatos históricos, obviamente, como se houvessem fatos “não históricos”). O problema da escrita da história, como lembra Durval Muniz de Albuquerque, é a suposição de um único frame, ou mais, de que múltiplos frames possam ser ordenados de modo a produzir uma narrativa universal e única que contem a história de uma humanidade. Como lembra o autor, essa operação é um equívoco tendo em vista que ignora a particularidade da própria diversidade – cultural, social, política, situacional – enfim, uma diversidade que é em última instância também “histórica” no sentido que oferece elementos e problemas para se pensar o lugar do tempo na produção de sentidos, valores e experiências.
O problema do quadro, e em alguma medida, também o da história enquanto tecnologia de produção de escrita é aquele de eventualmente esquecer-se de perguntar: quem faz o click? Quem segura à moldura? Quem ordena o frame? A questão remete de maneira específica à problemática já apontada por JENKINS pela qual é marcante certa dificuldade de reconhecimento dos arranjos culturais e sociais no ofício de certos historiadores. No escopo de um processo de reconfiguração e reconhecimento dos efeitos citacionais e políticos da história sobre a produção de subjetividades e de um plano de fundo coletivo é preciso reivindicar a dimensão reflexiva do trabalho de modo que “qualquer historiador reflexivo deve ser capaz de identificar os elementos ideológicos que sustentam o constructo da história no qual trabalha em vez de confundi-los com a história como tal” (Jenkins, 2014, p.56).
No contexto específico do ensino de história, esse problema é ainda mais denso. Como argumentado há pouco, a ideia de ensino de história no contexto escolar é tomada como um espaço de reconhecimento e legitimidade de narrativas, eventos e personagens. Nesses termos, ainda que tente se desvencilhar de uma história universal em favor de uma explosão e torção de narrativas em guerra e em disputa, o ensino de história tem sua na razão de ser simultaneamente sua maior potência e desafio. Mais uma vez recorrendo a Albuquerque Júnior:
A história, desde a Antiguidade, desempenhou o papel – comum a todos aqueles saberes que na modernidade foram agrupados sob o nome de ciências humanas – de forma subjetividades, de produzir a própria humanidade daqueles que são definidos como humanos. A história, quando se torna disciplina escolar, explicita esse papel de formadora de sujeitos, de construtora de formas de ver, de sentir, de pensar, de valor, de se posicionar no mundo. Embora tenda a ser desqualificada – porque seria um saber desprovido de utilidade imediata, mas não uma tecnologia a serviço da fabricação de artefatos – a história possui a utilidade de produzir o artefato mais complexo e mais importante da vida social: o próprio do ser humano, a subjetividade dos homens (ALBUQUERQUE JÚNIOR: 2012, p.31).
Se no conjunto dos saberes que se ocupam da constituição de algo comum uma própria noção de “humano” a história ocupa um papel fundamental, então é preciso considerar as dimensões éticas e políticas que os enquadramentos que configuram a escrita e o desenho da história podem vir a ter. Nesses termos, Butler e Albuquerque Júnior parecem concordar sobre a centralidade de considerarmos de maneira crítica e extensiva os agenciadores e os efeitos implicados na organização dos enquadramentos ou na tessitura da narrativa histórica sobre os povos e pessoas. Em última instância, isso tem eco na pergunta formulada pelo historiador: “mas que tipo de pessoas a história se propõe a forma hoje?”, ou na provocação de Butler sobre os lugares de “fotógrafo” e “espectador” na produção dos quadros da vida social.
Se a história é uma tecnologia de produção de escrita, então é preciso estar atento à linguagem e à estética que produzem a legibilidade, a autoridade e a força das narrativas, bem como aos modos como essas são reiteradas e confirmadas através dos processos de socialização como o ensino. Uma tecnologia de tal proporção deve estar ancorada em um firme comprometimento ético e moral com o respeito à diversidade e à diferença, levando a sério as perspectivas e os equívocos que configuram a especificidade e a tênue relação de continuidade e de fluxo nos mundos que as pessoas produzem para si. Retomando Albuquerque Júnior:
A história implica o aprendizado da alteridade, o aprendizado da possibilidade de existência de outras formas de sermos humanos, o aprendizado da viabilidade de outras maneiras de se comportar, da existência de outros valores, de outras ideias, de outros costumes que não aqueles dos homens e mulheres contemporâneas (2012, p.32).
Nesses termos, a história é um exercício de comprometimento que se ancora tanto nas possibilidades de múltiplos mundos como em uma política que tensiona na organização de seus frames o que pode ser visto e o que é tirado de cena, o que é lembrado e o que é esquecido.
No contexto de uma política do esquecimento, ou mais precisamente, do reconhecimento dos efeitos políticos e estéticos sobre a produção do esquecimento e da história que fazem parte de certa narrativa sobre os povos, deve ser um compromisso ético a valorização das narrativas e da memória sob a insígnia histórica daqueles povos e grupos que ocupam uma posição de “subalternos” na dinâmica colonial. As histórias negras, mas também as histórias indígenas, femininas e das mulheres, as histórias trans e homossexuais, as histórias interioranas e longuíquas precisam ser consideradas no seu potencial disruptivo de fazer expor a incorporação nos enquadramentos dos poderes sociais e colonial que secundariza a multiplicidade, a diversidade e a diferença em favor de um “universal” que se supõe neutro, mas que é tão somente marcado em termos de branquitude, classe, idioma, lugar – mesmo que rejeite essas formas de localização de si.
A história não é uma narrativa sobre o passado, é antes uma proposta de reflexão crítica e profunda sobre o tempo e seus efeitos na constituição dos sentidos de humano, enfim, dos conceitos que organizam e especializam geográfica e temporalmente a situação humana. Nesse sentido, uma reflexão sobre as multiplicidades históricas e narrativas deve estar tão comprometida com os projetos coletivos e o uso das temporalidades na produção das coletividades quanto nos enquadramentos e nas políticas de lembrança e esquecimento que arquitetam a memória.
O contexto atual, especificamente o brasileiro, é um momento rico de reflexão sobre a dimensão política e social dessas políticas de esquecimento e de lembrança sobre o ensino como um todo, e sobremaneira evidencia o papel da história como espaço de aprendizado da positividade da diferença, da alteridade e do encontro. Enfim, um espaço de positivação das multiplicidades frente a arranjos temerosos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando nós, professores de história estamos em sala temos a oportunidade de ensinar os conteúdos de forma a criarmos ou não uma conexão entre esses acontecimentos do passado com a realidade dos alunos ou apenas fazer com que eles decorem datas, causas e consequências.
No caso do ensino de história desconectado da realidade resulta em um afastamento dos discentes e torna a disciplina desinteressante e até cansativa, porém quando os educadores estão propostos a mesclar os costumes, sociedade e acontecimentos de tempos passados com o cotidiano do aluno e com discussões atuais, irá o discente se aproximar, interagir e compreender melhor o conteúdo.
Ao discutirmos violência, gênero, sexualidade ou religião na Grécia antiga, por exemplo, podemos ficar na Grécia que é um ambiente desconhecido para o aluno ou fazer transposições e comparações com os dias atuais, para ele entender as semelhanças e diferenças entre essas duas sociedades, que os acontecimentos ocorridos a milhares de anos atrás podem ou não se repetir agora dependendo no nosso contexto social e cultural.
Deve-se conectar o cotidiano da comunidade escolar para os exemplo e conteúdos tratados em sala de aula não somente para tornar esse ambiente mais politico e participativo, mais também para tornar o aprendizado mais fluido e corrente.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. “Fazer defeitos na memória: para que serve o ensino e a escrita da história?”. GONÇALVES, Márcia (et all). (Org). Qual o valor da história hoje?. Rio de Janeiro: Editora FVG, 2012.
BUTLER, Judith. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
JENKINS, Keith. História Reconfigurada: novas reflexões sobre a antiga disciplina. São Paulo: Contexto, 2014. Capitulo II.
[1] Historiadora, especialista em Ensino de História e em História e Cultura Afro-brasileira e Africana
[2] Pós-graduanda em História
Enviado: Julho, 2018
Aprovado: Outubro, 2018